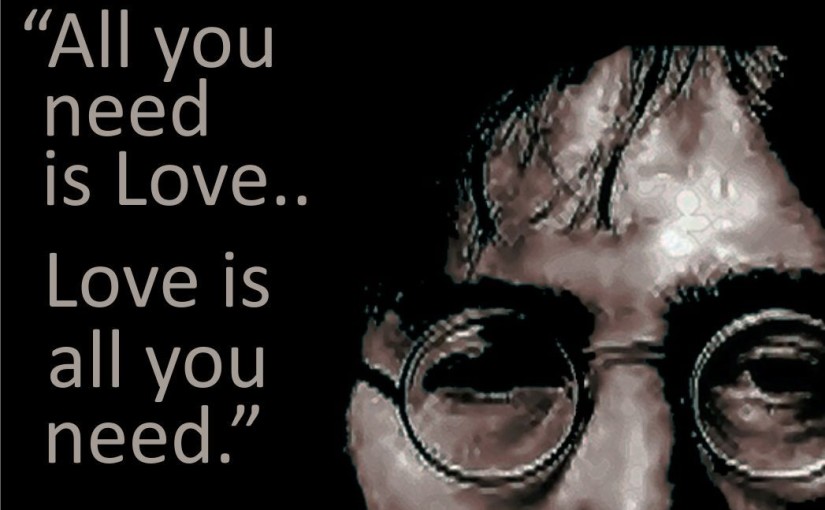Na época que a Manuela nasceu, filha da minha filha, minha rotina mudou. Ficava em São Paulo uma semana por mês tentando conciliar minhas atividades, sem tempo nem cabeça para o blogue.
Quando voltei a sentir falta de escrever aqui e comecei a ensaiar um primeiro post, ele se multiplicava a cada tentativa de editá-lo. Eu me sentia um personagem do Buñuel em O Anjo Exterminador (1962), aquele filme que os convidados de um jantar de gala não conseguem deixar a mansão, embora nada na realidade os impeça; todas as portas estão abertas, mas todos são absolutamente incapazes de atravessá-las. E ali permanecem dias e noites confinados na sala com os anfitriões. Assim era eu, presa em um post sem que nada me impedisse de considerá-lo pronto para publicação. Exceto uma sensação imprecisa de que eu tinha esquecido alguma coisa ou, ao contrário, de que tinha falado mais do que poderia.
No filme, a intimidade compulsória que os convidados e anfitriões viviam no confinamento parecia invadida por um anjo exterminador que pôs fim a seus freios internos, derrubando a barreira da censura e exterminando sua força para reprimir seus impulsos. Ora ora, não é esse clima de liberou geral que imaginamos como sendo o nirvana ou o paraíso? Pois longe de trazer o supremo gozo, essa liberdade imperiosa dos nossos impulsos mais primitivos deu lugar aos comportamentos mais bizarros e insólitos. Assim dominados por seus impulsos e fantasias inconscientes, os comensais mergulharam na angústia e desorientação.
Já pelo final da primeira temporada do meu blogue eu também parecia invadida por esse anjo exterminador. Quanto mais mergulhava em mim através da minha escrita, mais profundamente cavucava minhas entranhas sem me dar conta do risco que corria. Quando vi, já tinha libertado meus demônios e fantasmas que vieram me assombrar e me causar perplexidade e confusão. Por essa época e sem notar, comecei a por o pé no freio como se precisasse tomar ar.
Foi também por aí que a Manuela nasceu aumentando a confusão, mas também organizando a bagunça que rolava dentro de mim; seu nascimento traduzia tudo na pergunta: quem sou eu? Quem sou eu, “avó”?
Poderia obturar essa fuzarca assombrada dizendo “sou avó”. Mas essa palavra me parecia esvaziada de sentido pelo uso, e genérica demais para expressar algo novo que eu estava sentindo e que não tinha a menor ideia do que era. Ou melhor, tinha várias. A expressão filha da minha filha surgiu espontaneamente, seguindo a trilha aberta pelos filhos da mãe.
Como Alice caindo na toca do coelho, despenquei curiosa no buraco vislumbrando vultos e restos de uma cultura nascida comigo. Peças, obras, monumentos dessa civilização antiga na qual, como Indiana Jones, eu chegava escavando um subsolo ao mesmo tempo estranho e familiar.
O presente que a Julia me dava no dia 16 de setembro chegou revirando meu passado e lembrando o futuro, efeito que a escrita já tinha detonado. Nascendo nesse dia, a Manuela prolongava o balanço que eu já começara a fazer por ocasião do meu aniversário, dez dias antes.
E assim comecei a descobrir que dentre as tantas coisas que ela significa para mim, a encruzilhada protagonizava a cena e, como toda metáfora, fazia sonhar. A música Crossroads (encruzilhada), também conhecida como Crossroads blues, foi composta por Robert Johnson em 1936 e você pode ouvi-la sonhando nessa gravação original ao clicar nesse link do Youtube https://www.youtube.com/watch?v=kXFAlFqjSlM .

Saí da confusão entendendo que a dificuldade para retomar o blogue não estava na falta do que falar, mas na dificuldade de não saber o que calar. Sem freios, entregue à falação interior, como poderia escolher o que falar e o que calar? “Para fazer uma omelete, é preciso quebrar ovos”, Freud gostava de citar. Quebrar a casca espalha o conteúdo em algum continente – no caso, o leitor. Não bastava traduzir a balbúrdia interna em uma linguagem compreensível; ela ainda teria que ser aprovada pela minha censura.
Lembrei de uma história que me aconteceu há alguns anos. Voando numa ponte aérea meu vizinho de poltrona me falava dos seus filhos e netos e de sua alegria de ser avô. De repente ele me perguntou:
– “E sua filha, “já” tem filhos?”
– “Não”, respondi, com um não quase gritado que nos levou a gargalhar. Ainda rindo muito ele me perguntou:
– “Mas o que é que você tem a ver com isso? Você já fez a sua parte, agora é com ela e o marido”.
– “É”, concordei.
Mas na verdade, dentro de mim o que eu ouvi mesmo foi um “será?”.
A essa altura você pode dizer que eu complico as coisas e nem tento discordar. Sei que complico, que não paro de fazer perguntas. Aliás, tenho sempre mais perguntas que respostas. Mas se complico é porque as coisas são complicadas, especialmente essa matéria prima que atrai meu interesse: o tal do ser humano.
Se eu disse para ele que tenho uma filha e um filho, por que, diachos, ele dirigia sua pergunta apenas a ela? Por que restringir o direito da minha filha escolher o destino a dar a sua vida? Então meu grito era um grito feminista, protetor da liberdade sexual da minha filha, mulher como eu e livre para gozar da sexualidade sem a obrigação da maternidade.
Mas ele deu ainda mais matéria para minhas caraminholas porque perguntou o que é que eu tinha a ver com isso. Quase nada, exceto o fato de ser mulher.
Naquela época eu escrevia Os Filhos da Mãe e a Julia nem falava sobre ter ou não filhos. Mas eu tinha amigas que já eram avós e acompanhava sua luta para conciliar suas vidas com a ajuda que davam aos filhos que tinham filhos. A história da Hilevi, que estava tão longe quanto eu de ser avó, é exemplar.  Hilevi mudou-se para os Estados Unidos com o marido e o casal de filhos pequenos há mais de vinte e cinco anos. Os filhos cresceram e foram morar em Chicago a alguns quilômetros dela. Poucos meses depois da Julia ter a Manuela, P., sua filha, também teve uma filha. E a avó teve que reorganizar sua vida de modo a permanecer em Chicago durante a semana para ajudar o casal, já que ambos trabalham e ambos precisam viajar por causa do trabalho. Havia algum tempo ela planejava vir ao Brasil e começou a se organizar para a viagem. Preparava-se para uma época que daria ao casal o tempo necessário para se reorganizar na nova vida com o bebê.
Hilevi mudou-se para os Estados Unidos com o marido e o casal de filhos pequenos há mais de vinte e cinco anos. Os filhos cresceram e foram morar em Chicago a alguns quilômetros dela. Poucos meses depois da Julia ter a Manuela, P., sua filha, também teve uma filha. E a avó teve que reorganizar sua vida de modo a permanecer em Chicago durante a semana para ajudar o casal, já que ambos trabalham e ambos precisam viajar por causa do trabalho. Havia algum tempo ela planejava vir ao Brasil e começou a se organizar para a viagem. Preparava-se para uma época que daria ao casal o tempo necessário para se reorganizar na nova vida com o bebê.
Com ela viriam o filho, que fazia residência em medicina e a nora, filha de pai americano e mãe brasileira que se tornara sua melhor amiga nos Estados Unidos. No entanto, há uns quinze anos essa amiga morreu deixando o marido e a filha única, M. Com a morte da mãe, M. tornou-se meio filha da Hilevi. E anos depois M., que sempre fora amiga dos filhos da Hilevi, seria também sua nora. Preciso dizer o quanto M. contava com a Hilevi?
Os planos de vir ao Brasil foram por água abaixo; enquanto a Hilevi ainda cuidava da neta em Chicago, M. ficou grávida. Tudo corria muito bem, M. continuava a ascender a cargos de direção no trabalho e o marido na residência já quase em fase final. Inesperadamente, porém, em uma viagem de fim de semana ao Texas, M. foi internada às pressas e o filho nasceu antes do previsto.
Sogra e meio mãe de M., Hilevi tornou-se também a âncora do neto, que teve que permanecer meses no hospital. Durante todo esse tempo ela se dividiu não mais entre sua casa e a da filha em Chicago, mas entre o hospital no Texas e sua casa.
Assim continuou mesmo depois do bebê ter alta e ser liberado para a viagem a Chicago com os pais. Porque, apesar da imensa ajuda que M. teve do seu trabalho durante todo esse tempo, não poderia mais dedicar-se tanto ao bebê em casa e ele continuaria a necessitar de atendimento especializado. Até que isso fosse possível Hilevi assumiu inteiramente seus cuidados enquanto a nora e o filho trabalhavam, inclusive preparando-se com um curso próprio para aprender a atender as necessidades do neto. A avó continuava a se dividir entre sua casa e a casa do filho em Chicago, onde passava a semana.
As fotos nesse post foram feitas pelo Gordon Walek (exceto a da capa, feita pela Hilevi). Nelas nós duas passeamos e curtimos Chicago antes de sermos transformadas em “avós”. Manuela nasceria pouco depois. Apresentei à Hilevi meus amigos Gordon Walek e sua mulher, Ruth Mugalian, profundos conhecedores da cidade, da sua história, seus museus, sua arquitetura, sua vida. Até rolou uma deliciosa comemoração pouco antecipada do meu aniversário nesses dias em que, sem saber, nos despedíamos de nossas vidas sem netos.

Mãe é mãe, avó é avó mesmo?
– “Mas o que é que você tem a ver com isso? Você já fez a sua parte, agora é com ela e o marido”, disse meu companheiro de voo.
Será? Acho que consegui explicar a minha dúvida. Assim como fui levada a desidealizar a maternidade escrevendo Os Filhos da Mãe, também me mantive aberta às perguntas que me faço sobre o que significa ser avó. Em uma cultura na qual a mãe é laureada com títulos sagrados, seu neto só poderia ser essa “bênção” que todos falam. O problema é que, para variar, na mãe como na avó o que eu vejo sempre é uma mulher.
E a mulher não precisa ser idealizada como enigma, santa ou nascida para cuidar. Dotada de um útero pela natureza, ela própria encarna a encruzilhada. É claro que sempre se pode fazer de conta que o útero não existe, como também a maternidade. Foi o que fez o feminismo até aqui, privilegiando a relação da mulher com o homem. Mas aqui já estamos entrando num outro post.